O desabafo de um professor da rede pública de São Paulo sobre a luta dos trabalhadores da educação para que a escola continue sendo um lugar de vida
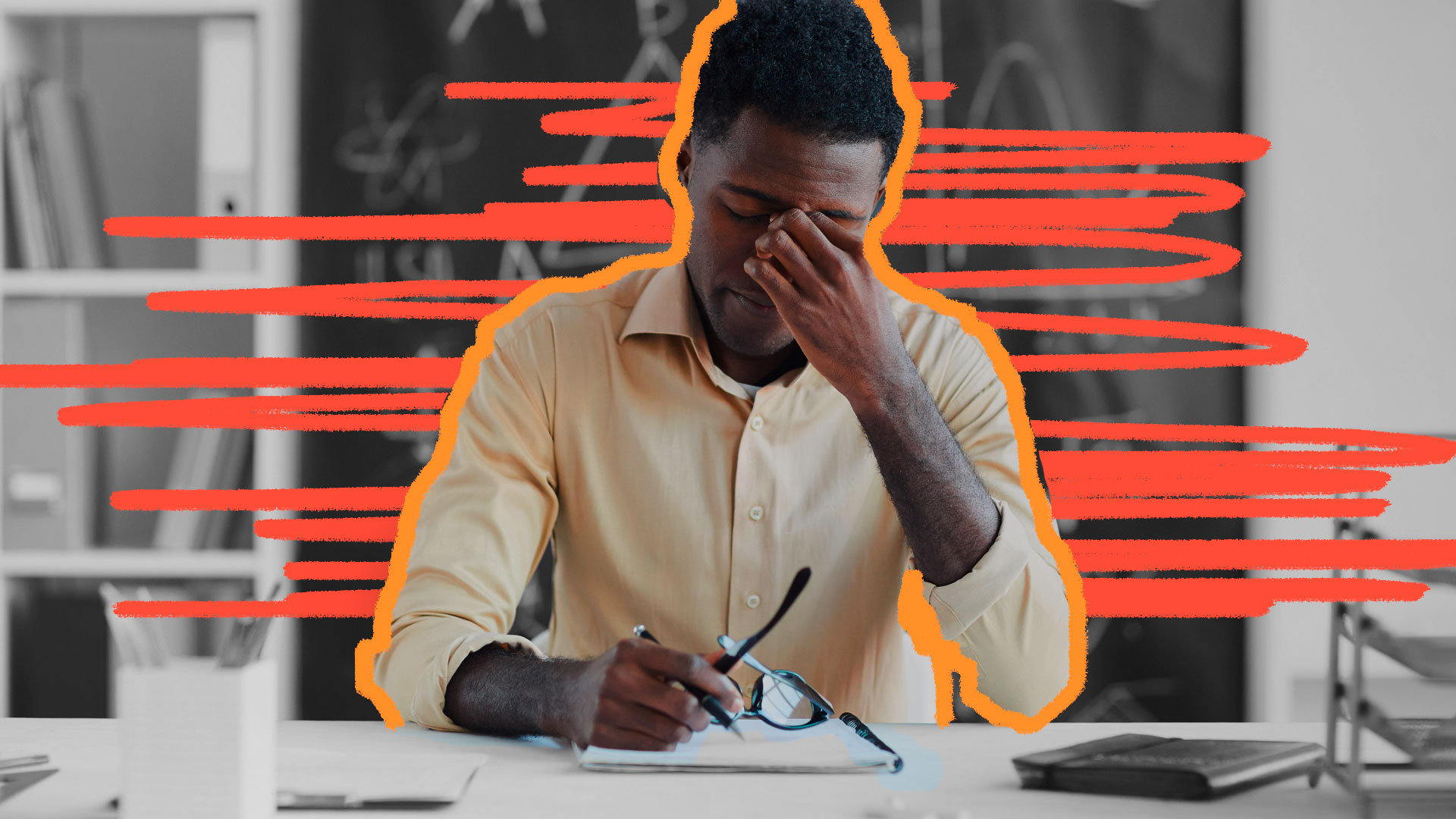
Entrega de merendas, ensino remoto, acolhimento de crianças vítimas de violência ou combate à evasão escolar. Quando falta o Estado, são infinitos os desafios dos trabalhadores da educação da rede pública. O professor Carlos Eduardo desabafa sobre este ano de pandemia.
Escrevo a partir de um território educativo que foi absolutamente violado ao longo de um ano inteiro e de uma rede de trabalhadoras e trabalhadores que buscaram saídas para que a educação se mantivesse presente na vida de milhões de crianças, jovens e adultos.
Sabemos que onde a potência das escolas está ausente, outras forças ocupam o direito à educação.
Imediatamente ao anúncio da suspensão das aulas presenciais no mês de março de 2020, solicitamos a entrega de cestas básicas para as famílias de todos os educandos da rede municipal de São Paulo. Fizemos relatórios para a Defensoria do Estado pedindo que fosse garantida, em primeiro lugar, a vida de todas as pessoas. No entanto, vimos nosso estado e município recorrendo à justiça para não serem obrigados a entregarem alimentos a toda a população. Não é preciso dizer que perdemos! Isso tudo ainda em abril.
Eu não conheço uma escola que não tenha feito arrecadação de mantimentos ou de valores para subsidiar a compra de cestas para as famílias que anunciavam o ingresso na linha da miséria. A minha, onde atuo desde 2015, situada na região leste da cidade de São Paulo, junto à Associação Beneficente Amor ao Próximo e mais cinco unidades educacionais, entregou mais de 2 mil cestas básicas. Compramos leite e fraldas. Levamos as cestas nas casas das crianças que eram cuidadas por idosos. Entregamos mantimentos para as ocupações de moradias em que sonham e dormem os estudantes de nossas escolas.
Fomos muitos braços ocupando o lugar da mão do Estado, que se negava à população.
Mas o Estado tinha dinheiro para isso? Essa é uma pergunta que poderia ser feita, afinal, enfrentar uma pandemia nunca fez parte da previsão orçamentária da pasta. Eis a resposta: o município de São Paulo terminou o ano com, aproximadamente, 8 bilhões de reais nos cofres públicos que não foram empregados nas escolas, deixando de seguir o plano municipal de educação que destina 33% do PIB da cidade para este fim. Quase dois milhões de refeições deixaram de ser distribuídas diariamente nas escolas municipais de São Paulo. Ao menos, 320 milhões de refeições não foram entregues às crianças ao longo de 2020.
Uma luz no fim do túnel era anunciada. Foi criado, ainda em abril, o cartão merenda para crianças, adolescentes e adultos. No entanto, seria para pouco mais de 25% dos quase um milhão de educandos da cidade. Imediatamente pedimos que o cartão fosse entregue a todas e todos, não apenas às famílias que tinham cadastro na rede de assistência social do município. Nova derrota. A uma semana do primeiro turno das eleições municipais, o cartão foi enviado a todos os educandos que deveriam retirá-los nas escolas.
Enquanto isso, tentávamos auxiliar famílias inteiras que eram despejadas, que não recebiam auxílio do município, nem do governo federal, pois ficaram desempregadas no início da pandemia. Majoritariamente, tratava-se de trabalhadores informais do comércio ambulante da região.
Era a fome e a tristeza morando nas mesmas ruas de nossas escolas.
Se para estudar era preciso estar vivo, fizemos uma pesquisa junto aos familiares das crianças da escola: 30% das famílias informaram que já não tinham mais condições de se manter economicamente. Avós, tios, mães e pais foram às ruas em busca de trabalho e levaram seus filhos. Os relatos de trabalho infantil chegavam do 3º ao 9º ano do ensino fundamental. Sem a possibilidade econômica para manterem-se isolados, o luto chegou a 41 famílias de um universo de 750 pessoas que estão na unidade educacional em que trabalho. Junto à fome, aparecem outras situações como a dependência química, a violência doméstica e sexual e todo o universo das violações que nos circundam.
Professoras e professores procuraram ser “muitas coisas” antes das práticas pedagógicas, pois não há possibilidades de estudo na fome, no luto, na violência e na ausência de direitos.
Dos dez profissionais que se mantiveram no trabalho presencial na unidade educacional em que estou, quatro se deslocavam até lá utilizando transporte público. Todos eles sofreram com a Covid-19. Uma dessas pessoas, inclusive, perdeu a mãe e luta até hoje para recomeçar a vida com uma grande cicatriz que não pode ser escondida.
Mas, o que ensinaram professoras e professores? Com a suspensão das atividades, imprimimos materiais imediatamente, formamos grupos por sala no WhatsApp com os familiares e iniciamos o que seria o trabalho remoto. Celulares compartilhados entre cinco pessoas, pouco ou nenhum acesso à internet, aparelhos antigos e uma grande dificuldade de sustentarmos a interação com as famílias. A prefeitura valeu-se da parceria com a Google for Education e criou contas para todos os educandos da rede. O que parecia muito promissor virou um abismo das poucas relações.
As famílias não conseguiam operar o aplicativo em seus celulares por pouca memória ou baixa capacidade de trocas de dados nas redes de 3G e 4G. Para quem não tem computador (80% de nossos educandos), acessar a plataforma e administrar as atividades postadas era caótico. Entendemos que o WhatsApp seria uma boa saída. Investimos nossas energias nessa plataforma e criamos videoconferências com grupos de até oito pessoas. Ampliamos e passamos a apostar também no Facebook e no Messenger. Quando nada dava certo, ligávamos para os estudantes semanalmente.
Éramos agora profissionais que atendiam seus estudantes por 16 horas diárias em cinco plataformas distintas.
As professoras e professores se juntaram e criaram a rádio de Bitita tentando chegar onde já não víamos mais. Não houve reunião em que não chorássemos juntos ao vermos as imagens por trás das câmeras nas casas dos nossos estudantes, renovando a cada hora a vontade de estarmos juntos.
Em dezembro, houve o anúncio de que as crianças do ensino fundamental e médio, assim como os adolescentes e adultos da EJA, receberiam tablets com acesso à internet. Dos 750 tablets que deveriam ter chegado, até o momento em que escrevo este artigo, recebemos apenas 12. Das 13 salas de nossa escola que ganhariam aparelhos multimídia para podermos atender presencialmente, assim como os educandos que se mantém no ensino remoto, nenhum foi instalado até o momento. Os empecilhos legais barram as necessidades reais de adequação de um prédio construído há 60 anos, tais como a troca de janelas que permitiriam maior circulação de ar. Inegavelmente há dinheiro, mas não temos as garantias para a realização das reformas que precisam ser realizadas com a legislação vigente.
Em pedaços, fomos para o que seriam as férias escolares. Ainda em janeiro líamos e víamos nos noticiários sobre a escalada da pandemia no Brasil e já com mais de mil mortes diárias no país, o plano adotado era reabrir as escolas para até 35% dos estudantes em regime presencial, com merenda seca e seguindo um protocolo de saúde que impede as interações absolutamente comuns nos espaços escolares.
Seríamos agora, mais do que nunca, os controladores dos corpos enfileirados e virados para frente.
Estaríamos sentados e inertes por cinco horas, no caso do ensino fundamental, ou até dez horas no caso da educação infantil. E os outros 65% dos educandos? Seriam atendidos na modalidade do ensino remoto. Mas quem se dedicará a isso se as professoras e professores estão presencialmente nos encontros com 35% dos estudantes? Por mais malabarismos narrativos que faziam, a conta não fechava. Ninguém os atendia. Ao fim, tivemos educandos em rodízio, sem que sejam acompanhados nos outros dias, sem poderem se relacionar como habitualmente faziam, com uma alimentação valendo-se por vezes de produtos ultraprocessados e permitindo a circulação de aproximadamente 450 mil pessoas a mais na cidade de São Paulo em meio ao crescimento da pandemia.
As trabalhadoras e trabalhadores da escola foram colocados na ponta da lança, escondendo a inércia das ações de amparo à população em um ciclo viciante que impõe uma situação de miséria e fome.
Empurraram os profissionais da educação para um fronte de alto risco de contágio e esses já não contarão mais com leitos nos hospitais. Em cinco semanas de aulas na rede estadual e nas particulares, sem considerar a cidade de São Paulo, foram 4.084 casos de Covid-19 entre professores e estudantes, resultando em 21 mortes. Com duas semanas de aulas, nossos celulares já haviam virado obituários anunciando as mortes das trabalhadoras e trabalhadores da educação que haviam retornado aos regime presencial.
Com base nestes dados, é possível afirmar que a greve de trabalhadoras e trabalhadores da educação não permitiu mais surtos nas escolas. Ao fim, mortes foram evitadas. A coletiva de imprensa com o prefeito de São Paulo, com o Secretário de Educação e o Secretário de Saúde não fez menção sequer às notas de falecimentos dos profissionais da educação, que foram para as escolas tentar lutar contra as forças invisíveis da pandemia. Morreram sem direito à memória, nos corredores dos hospitais de nossa cidade. Como se não representassem nada para os governantes, engrossaram apenas os números de que se valeram para, finalmente, suspenderem as aulas presenciais. Foram necessários milhares de contágios e muitas mortes para que fôssemos ouvidos.
A pergunta fundamental ainda ressoa:
Se a escola sempre fora o lugar da vida, por qual razão a transformaremos no local da morte?
Atribuir essa conta aos professores é, no mínimo, injusto e cruel. Continuaremos vivos e amanhã estaremos nos encontros com filhos e filhas dos trabalhadores deste país, lembrando dos que se foram e refundando a educação para um mundo muito melhor do que esse em que estamos.
* Carlos Eduardo Fernandes Junior – Coordenador Pedagógico da EMEF Espaço de Bitita/ atual EMEF “assassino e sequestrador” Infante Dom Henrique no bairro do Pari/Canindé da cidade de São Paulo. O termo “assassino e sequestrador” atribuído ao nome da escola deve-se ao fato de Infante Dom Henrique ter fundado o tráfico negreiro em Portugal, 1444. Há cinco anos, a escola luta para mudar este nome.
** Este texto é de exclusiva responsabilidade do autor e não reflete, necessariamente, a opinião do portal Lunetas.
Comunicar erro
Segundo o Secretário de Saúde da cidade de São Paulo, em coletiva de imprensa no dia 12 de março:
Não há informação sobre os dados da semana de 7 a 13 de março, que certamente chegaram a, ao menos, metade das escolas da rede, composta por mais de 1500 unidades de ensino.